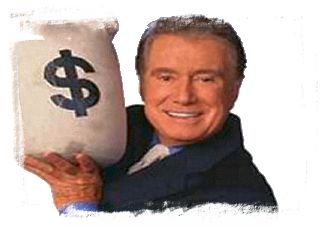A Síndrome de Desistência do Educador e a necessidade do reencantamento nos limites do fazer pedagógico
1. Considerações Iniciais:
A priori, poderíamos dizer que a Síndrome de Desistência do educador ou Síndrome de Burnout é um sintoma bastante presente na vida de qualquer trabalhador em educação. Porém, nunca a sistematização e o aprofundamento desta síndrome foram tão importantes para compreendermos o porquê de este profissional estar perdendo o seu vigor no ambiente escolar, ou melhor, o porquê de estar tão desvitalizado e sem ânimo para continuar acreditando em seu ofício.
Primeiramente, deve-se perceber que esta síndrome é multidimensional, ou seja, carrega consigo pelo menos três elementos essenciais: A) Despersonalização; B) Exaustão emocional; C) Falta de envolvimento pessoal no trabalho. Logo, estes três elementos revelam uma situação em que os educadores percebem esgotada a sua energia e os “recursos emocionais próprios”, além de desenvolverem atitudes negativas e cínicas em relação aos educandos. O endurecimento afetivo dos educadores torna as relações no ambiente escolar coisificadas, afetando sua prática pedagógica cotidiana (CODO, 1999, p.238).
É bem verdade que há variados ingredientes estruturais coadunados que reforçam esta síndrome, que vão dos salários indignos até a ausência de suporte sócio-afetivo na Escola. Os problemas familiares e econômicos, também podem ser apontados como obstáculos na eficiência do(a) educador(a).
Os educadores, embora tenham controle sobre o seu trabalho (todas as etapas do processo de produção do conhecimento), sofrem psiquicamente quando não conseguem atingir os seus objetivos pedagógicos. Este sofrimento quando não encontra um restauro imediato, tende a internalizar no educador uma sensação constante de impotência diante das demandas estruturais e conjunturais em seu ambiente de trabalho. Não há alternativas mágicas para superar a síndrome, nem tampouco uma solução clínica que possa resolver os desequilíbrios somatizados pelo corpo ao longo de um ano letivo. Entretanto, podemos apontar alguns caminhos que possam promover a amenização da síndrome ou condicioná-la de uma forma que não atinja o estágio da estagnação total do (a) profissional.
2. Troca de Experiências Pedagógicas e culminância de projetos coletivos
Entendendo que a dimensão pedagógica e o ofício do educador como um todo, necessita ser constantemente repensado no ambiente de cada escola, assim como a identificação dos principais obstáculos no processo ensino-aprendizagem, ressaltamos a relevância de intercambiarmos práticas e saberes coletivos. Nós, educadores, de maneira geral, somos ruins de marketing. Não sabemos fazer propaganda de nossas aulas. Acreditamos na maioria das vezes que as tarefas que propomos aos nossos alunos são simplistas e desinteressantes. Ledo engano. Atualmente, as relações humanas encontram-se cada vez mais pulverizadas. Há pouco tempo para o diálogo, há pouco tempo para o sublime e a contemplação. Como nos ensina Paulo FREIRE, precisamos fugir do discurso fatalista dos governos neoliberais e acreditar numa força capaz de arregimentar uma “nova rebeldia (...) a ética universal do ser humano e não a do mercado, insensível a todo reclamo das gentes e apenas aberta à gulodice do lucro. É a ética da solidariedade humana” (2003 p. 129). Dizer isso é radicalizar o espírito dos educadores. Mostrar-lhes que os caminhos são áridos e depende de toda uma organização pessoal e material.
Os saberes e as práticas destes educadores quando culminam em projetos coletivos, desencadeiam uma catarse fantástica. O registro destas experiências pedagógicas, agrupadas em áreas disciplinares, é que dão visibilidade a estas práticas, seja através de oficinas ou seminários, possibilitando uma intervenção mais sistemática por parte dos educadores. Urge, pois, romper os grilhões que condicionam o saber escolarizado a um saber menor, sem validade científica.
2.1. Espaço de trabalho também é espaço de criação
Atender clientelas tão díspares, com perfis sociais tão diversificados exige dos trabalhadores em educação uma formação que vai além daquela recebida nos bancos de uma universidade (formação inicial). A formação continuada possibilita ao educador estar atento ao seu tempo, ser protagonista e ao mesmo tempo coadjuvante no momento das decisões coletivas, desenvolvendo capacidades para “novas formas de utilização dos saberes, com o rompimento das barreiras na divisão das áreas estritas de conhecimento e trabalho” (GATI, 1997, p. 95).
É natural que às novas exigências das transformações do mundo do trabalho, que coisificam as relações humanas a patamares semelhantes às da 1a. Revolução Industrial, os trabalhadores em educação sejam chamados a uma imensa responsabilidade: reduzir as fronteiras que separam os alfabetizados plenos dos alfabetizados funcionais. A leitura do mundo está exigindo muito mais do que decodificações precárias de textos impressos, de informações fragmentadas retiradas de um site da internet ou de uma manchete de um semanário. Soma-se a isto, a enorme leva dos analfabetos digitais, excluídos por não poderem acompanhar o avanço incessante da microeletrônica.
Diante disso, os educadores não podem se isolar. A criação é um processo muito rico, embutido nos planejamentos coletivos e em consonância com o PPP (Projeto Político Pedagógico) da unidade escolar. Um ambiente de trabalho criativo é um ambiente dotado de possibilidades pedagógicas. Mas, acima de tudo, é um ambiente onde os trabalhadores em educação se sentem à vontade para trocar idéias, onde impera a construção do conhecimento e a ludicidade necessárias para se promover um locus sadio de interatividade intelectual.
2.2. Trabalhadores em educação: domínio do conhecimento científico
Ter domínio de sua área de conhecimento parece ser algo óbvio quando nos referimos aos educadores. No entanto, não é o que tem ocorrido ultimamente. O domínio do território epistemológico por parte do educador é que o torna um diferencial na análise de um fenômeno físico-químico ou de um fenômeno social. Porém, seja pela defasagem da formação inicial e a ausência de uma formação continuada a contento, os educadores estão em grande medida aquém das necessidades exigidas pelo mercado típico de trabalho.
Logo, a postura profissional dos trabalhadores em educação necessita, efetivamente, ser de intervenção pedagógica constante. O enfrentamento, as atitudes afirmativas tomadas nos momentos de conflito, fazem com que os educadores se tornem peças fundamentais na construção do projeto pedagógico da Escola. Um educador feliz, apaixonado, que materializa suas utopias, consegue contagiar seus alunos. Isto só é possível quando a gestão na unidade escolar é democrática, quando todos os educadores, educandos, especialistas e funcionários agem de maneira uníssona, pois sabem que as instâncias de deliberação coletiva (Conselho Deliberativo, APP e Grêmio Estudantil) possuem legitimidade. Uma gestão autoritária, desplugada da realidade da comunidade escolar, tende a reforçar exclusões e o isolamento de seus sujeitos partícipes.
Tendo em mãos um planejamento estratégico, que possa diagnosticar com maior precisão as prioridades, metas e ações transformadoras no ambiente escolar, conduz os trabalhadores em educação a um processo de superação de práticas pedagógicas viciadas e desarticuladas com o PPP da unidade escolar. Entendemos que o desafio das gestões democráticas é o de motivar todos os seus profissionais num projeto coletivo sólido, que possa servir de referência para todos os educadores compromissados com o seu ofício social. As lideranças agregadoras devem ser identificadas no interior do universo escolar, objetivando a protagonização destes sujeitos potencialmente criativos em circunstâncias de desmobilização grupal.
3. Considerações Finais
Não podemos ser simplistas ou ingênuos a ponto de acreditar que o empenho dos educadores resolverá todas as demandas de uma Escola. Evidente que os educadores são os agentes diretos pelo maior ou menor avanço do processo ensino-aprendizagem de uma classe de educandos. Mas, o que fazer quando estes profissionais deixam de ter compromisso com a Escola? Quando começam a se ausentar sistematicamente e apresentar atestados médicos freqüentes? Quando sabotam os projetos coletivos e se posicionam como lideranças desagregadoras? Quando se orgulham em menosprezar a equipe pedagógica, acreditando que estão sempre certos e que só eles – professores- trabalham na Escola?
Os educadores sofrem, porque estão no atual momento histórico, sentindo-se desamparados. Desamparados pelo Estado, que não investe na sua formação continuada e não consegue estabelecer uma política salarial mais equânime; sofre, porque não é atendido pela unidade escolar no que tange aos recursos necessários para favorecer o processo ensino-aprendizagem; sofre, porque acredita que perdeu tempo no Magistério, porque viu seus ‘amigos’ se darem bem na vida, adquirindo bens materiais impensáveis para o seu padrão aquisitivo.
A Síndrome de Burnout, neste sentido, só poderá ser combatida de maneira orgânica. Atacar seus pontos fortes (despersonalização, exaustão emocional e falta de comprometimento) exigirá uma reorganização política da classe docente e um sentimento de pertença ao ambiente escolar.
Enfim, no epicentro de todos estes tensionamentos, a única saída para amenizar a síndrome, é compreender que a insatisfação do trabalho docente não pode ser desconectada de todas as demais instâncias deliberativas da Escola e das políticas públicas implantadas até o momento. O percurso é sinuoso, repleto de percalços e resistências. Mas pode ser menos doloroso psiquicamente se o trabalhador em educação puder ter momentos de discussão na escola, onde suas angústias possam ser canalizadas a partir de todo um dinamismo dialético histórico. A desistência sistemática dos professores, infelizmente, só agravará o quadro já caótico do ensino público no país.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CODO, Wanderley (Coordenador) Educação: carinho e trabalho. Petrópolis, RJ: Vozes/ Brasília: CNTE: UnB: Laboratório de Psicologia do Trabalho, 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 26 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
GATTI, Bernardete Angelina. Formação de Professores e carreira: problemas e movimentos de renovação. Campinas, SP: Autores Associados, 1997.
VIEIRA, Sofia Lerche (Org.). Gestão da Escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP & A Editora, 2002.